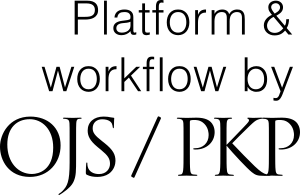A conexão possível: a gestão do patrimônio arqueológico em unidades de conservação
Resumo
As finalidades, o valor e as formas de atuação de gestores e arqueólogos quanto à gestão do patrimônio arqueológico em unidades de conservação são analisados sob a luz da realidade administrativa dessas áreas protegidas. Discutir sobre o diferencial dessas áreas para a arqueologia e o papel daqueles agentes enquanto promotores desse patrimônio são os principais objetivos desta publicação. Assim, foram apresentadas a legislação federal relacionada às unidades de conservação, especificamente, no que se refere aos campos da educação e do turismo e que podem dialogar diretamente com a arqueologia; as correntes teóricas que influenciam a administração desses espaços e sua repercussão em relação ao patrimônio arqueológico; os elementos que fazem das unidades de conservação como locais privilegiados para a arqueologia e, por fim, foram expostas diversas atividades que os arqueólogos podem desenvolver nestas áreas.
Downloads
Referências
AIROZA, Maíra. Sítio arqueológico, turismo e comunidade local: reflexões a partir do olhar dos moradores da Vila de Joanes, Ilha de Marajó, Amazônia. Dissertação de Mestrado, UFPA, 101 p., 2016.
AMARAL, João Paulo; RANGEL, Patrícia. Patrimônio cultural em disputa: considerações acerca das práticas colonizadoras nos processos de patrimonialização. Revista Memorare, Tubarão, v. 4, n. 1, p. 19-44, 2017.
AMBRÓSIO, Rafaela Vidal. Situação fundiária dos parques estaduais de Minas Gerais. Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal, UFLA, p. 156, 2014.
ANDRADE, Marcela. Conservação Integrada do Patrimônio Arqueológico: uma alternativa para o Parque Estadual Monte Alegre - Pará - Amazônia - Brasil. 1. ed. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 222 p., 2013.
ANDRADE, Marcela. A Conservação dos Sítios de Arte Rupestre do Parque Estadual de Monte Alegre-PA. PAPERS DO NAEA (UFPA), v. 398, p. 1-35, 2018.
ANDRADE, C. Educação Patrimonial em Arqueologia: a dinâmica das práticas evidenciando redes de conhecimento. Revista de Arqueologia, v. 32, n. 2, p. 239–255, 2019.
ARRUDA, Gerardo Clésio Maia; FEDEL, Ivone Rosana. Unidades de Conservação ambiental no Estado do Ceará: implantação e sustentabilidade. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 17, n. 37, p, 213-39, jan.-abr. 2020.
ASSIS, Nívia Paula et al. Conexões entre arqueologia pública e museologia social: O centro museológico de experimentação comunitária do território Quilombola de Lagoas, PI. Revista de Arqueologia Pública, Vol.12 (2), p.161-180, 2018.
BEZERRA, Márcia. Na beira da cava: arqueologia, educação patrimonial e direitos humanos em Serra Pelada, Pará, Amazônia. Revista de Arqueologia, v. 28, p. 216, 2015.
BEZERRA, Márcia. Teto e Afeto: Sobre as Pessoas, as Coisas e a Arqueologia na Amazônia. 1. ed. Belém: GK Noronha, 108p ., 2017.
BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos Cambridge: Polity. Traduzido por Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006
BRASIL, Decreto-Lei de 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm. Acesso em: 14 de janeiro de 2025.
BRASIL. Lei Federal n. 9985 de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providênicias. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm. Acesso em: 08 de dezembro de 2024.
BRASIL. Decreto Federal n. 4.340 de 22 de agosto de 2002. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4340.htm. Acesso em: 27 de dezembro de 2024.
BROCHIER, Laércio. Diagnóstico e Manejo de Recursos Arqueológicos em Unidades de Conservação: Uma proposta para o Litoral Paranaense. Dissertação de Mestrado, USP, 2004.
CAMPOS, Juliano Bitencourt; RODRIGUES, Marian Helen da Silva Gomes; FUNARI, Pedro Paulo Abreu (Org.). A multivocalidade da arqueologia pública no Brasil: comunidades, práticas e direito. Criciúma, SC: UNESC, 2017.
CARNEIRO, Carla Gibertoni. Ações educacionais no contexto da arqueologia preventiva: uma proposta para a Amazônia. 2009. Tese de Doutorado, USP, 2009.
CARVALHO, Aline CAMPOS, Luana; FACHINI, Cristina; SILVA, João Paulo; OTONI, João Pedro. Cultivating resilience: Camburi Quilombos role in preserving local knowledge amid climate change. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, v. 1, p. 1-5, 2024.
COELHO, Carla Teixeira. Gestão de riscos para sítios históricos: uma discussão sobre valor. Tese, UFF, 328 p., 2018.
CRUZ, Cássia. Parques históricos da Região Metropolitana do Recife: processos de tombamento e preservação do patrimônio arqueológico. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2016.
DUARTE, A. P. M. P.; GARCIA, J. L. L. Educação patrimonial e a pedagogia freiriana: uma discussão sobre o programa de educação patrimonial da lt 138kv Barbosa Ferraz – São Pedro do Ivaí. Revista Arqueologia Pública, Campinas, SP, v. 16, n. 2, p. 120–139, 2021.
FERNANDES, Tatiana Costa. Vamos criar um sentimento?!: Um olhar sobre a Arqueologia Pública no Brasil. Dissertação de Mestrado Arqueologia, USP, 2008.
FIGUEIREDO, S. J. L.; PEREIRA, E. S.; BEZERRA, M. (Org.). Turismo e Gestão do Patrimônio Arqueológico. 1. ed. Belém: Iphan, 2012
FLORÊNCIO, Sônia R. Rampim et al. Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos. Brasília: Iphan, 2014.
FOLI, Ana Cristina Araújo; FARIA, Karla Maria Silva de. Oportunidades e Desafios da Criação de Unidades de Conservação: reflexões sobre as experiências no Estado de Goiás, Brasil. Revista Cerrados, Montes Claros, MG, v. 18, n, 2, p. 424-46, jul./dez, 2020
GIBSON, M. El patrimonio mundial y el reto del cambio climático. Revista Patrimonio Mundial, n. 42, p. 2-9, jul. 2006.
GOMES, Jaqueline. Cronologia e mudança cultural na RDS Amanã: Um estudo da fase Caiambé da Tradição Borda Incisa. Dissertação de Mestrado, USP, 2015.
GREEN, Lesley Fordred e GREEN, David R e NEVES, Eduardo Goes. Conocimiento indígena y ciencia arqueológica. Los retos de la arqueologia pública en la reserva Uaçá. Pueblos indígenas y arqueología en América Latina. Bogotá, D.C.: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 2010.
GUIMARÃES, Adriana. Aproveitamento turístico do patrimônio arqueológico no município de Iranduba, Amazonas. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 2012.
HABERMAS, Jürgen. Teoría de la ación comunicativa. Madrid: Taurus Humanidades, p. 521, 1999.
HARRISON, R. Heritage futures: comparative approaches to natural and cultural herita-ge practices. UCL press, 2020.
HORTA, Maria D. L. P.; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Q. Guia básico de educação patrimonial. Brasília: IPHAN Museu Imperial, 1999.
ICOMOS. The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action. 2019.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS (IBASE). Educação ambiental em unidades de conservação. Rio de Janeiro, 2006.
IPHAN. Projeto básico e especificação técnicas para elaboração de projetos de socialização
de sítios arqueológicos na Amazônia: musealização, educação e turismo. 2010.
IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambio Climatico. Impactos, adaptación, y vulnerabilidad: Resumen para responsables de políticas. 2014.
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.A, 1997.
LAGE, M. C. S. M. A conservação de sítios de arte rupestre. Revista do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, n. 33, p. 95-107, 2007
LAVADO, Margarida. A arqueologia da paisagem como instrumento de gestão do patrimônio arqueológico em unidades de conservação ambiental: o caso da apa noroeste do Paraná.Dissertação de Mestrado, USP, 2005.
LEITE, Lúcio Flávio Siqueira Costa. Pedaços de pote, bonecos de barro e encantados em Laranjal do Maracá, Mazagão, Amapá: perspectivas para uma arqueologia pública na Amazônia. Dissertação, UFPA, 150 p., 2014.
LIMA, Helena Pinto. Educação patrimonial e educação histórica: contributos para um diálogo interidentitário na construção de significado sobre o passado. Diálogos, Maringá, v. 19, n. 1, p. 199-220, jan./abr., 2015.
LIMA, Helena Pinto et al. Oca, origens, cultura e ambiente: uma proposta de arqueologia colaborativa em Gurupá/PA. Revista de Arqueologia Pública, Campinas, SP, v. 14, n. 1, p. 96-128, 2020.
LIMA, L.; FRANCISCO, G. da S. O que é isso? Para que serve? Quem são vocês? O que fazem? Uma experiência de arqueologia pública em Paranã – TO. Revista Arqueologia Pública, Campinas, SP, v. 1, n. 1[1], p. 49–62, 2015
LIMA, Tânia. Um passado para o presente: preservação arqueológica em questão. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, v. 33, p. 5-21, 2007.
LUCENA, Renata. Arqueologia e Turismo no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, Pernambuco: Um Modelo de Arqueoturismo Para o Desenvolvimento Local, 2024.
MACEDO, Thaisa Dayanne Almeida. “Vou te proteger”: a Educação Patrimonial como estratégia para proteção e valorização do patrimônio arqueológico do município de Felício dos Santos, MG. Dissertação de Mestrado, Diamantina, 175 p., 2017.
MALTA, Ione. Dinâmica e evolução do sistema carstico da Lapa Vermelha de Pedro Leopodo, MG. Dissertação de mestrado. USP, 1995.
MANZATTO, F. Socialização do patrimônio arqueológico no Estado de São Paulo: proposta de plano de gestão, interpretação e visitação turística em áreas arqueológicas. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 2013.
MONTEIRO, Fernanda; PEREIRA, Doralice; DEL GAUDIO, Rogata. Os (as) apanhadores (as) de flores e o Parque Nacional das Sempre-Vivas: entre ideologias e territorialidades. Sociedade & Natureza, Uberlândia, ano 24, n. 3, p. 419-434, 2012.
MOTTA, Felipe. O conflito sobre a Serra do Gandarela: uma análise deliberativa sistêmica. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 36, n. 105, 2021.
NOAH’S ARK PROJECT. Global climate change impact on build heritage and cultural landscapes. London: EU, 2007.
PIMBERTY, M; PRETTY, J. Parques, comunidades e profissionais: incluindo “participação” no manejo de áreas protegidas. In: DIEGUES, Antonio (Org.). Etnoconservação: novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. 2 ed. São Paulo: HUCITEC, USP, 2000.
PIRES, Gabriela. Estudo palinológico da Vereda do Juquinha/Cuba, Parque Estadual da Serra do Cabral, Minas Gerais, Brasil. Dissertação de Mestrado, UFMG, 2014.
PREUCEL, Robert; MROZOWISKI, Stephen (ed). Contemporary archaeology in theory: The New Pragmatism. Wiley-Blackwel, 2 ed, 2010.
RIBEIRO, Loredana. Cativos do Diamante. Etnoarqueologia, garimpo e capitalismo. Revista Espinhaço, v. 2, p. 153-167, 2013.
ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erika Marion. Sociedade e Arqueologia. Tese (Livre Docência
em Arqueologia), Museu de Arqueologia e Etnologia, USP, 2005.
RUSCHMANN, D. V. M. Turismo e Planejamento Sustentável: A Proteção do Meio Ambiente. 14. ed. São Paulo: Papirus Editora, 2009.
SABBIONI, C.; BONAZZA, A.; MESSINA, P. Cambiamenti climatici e patrimonio cultural: contributi sugli effetti dei cambiamenti climatici sul patrimonio costruito e sul paesaggio culturale. Bologna: CNR, 2007.
SALADINO, Alejandra. Prospecções na arqueologia brasileira: processos de ressignificação e práticas de preservação do patrimônio arqueológico. In: 26ª Reunião da ABA, Porto Seguro. Caderno de Resumos, 2008.
SALADINO, Alejandra. IPHAN, arqueólogos e patrimônio arqueológico brasileiro: um breve panorama. REVISTA DE ARQUEOLOGIA, v. 1/2, p. 40-58, 2014.
SANTIAGO, Djalma Guimarães. A proteção do patrimônio arqueológico: motivações, critérios e diretrizes no tombamento de sítios arqueológicos pelo IPHAN. 2015. 101 f. Dissertação de Mestrado, IPHAN, 2015.
SANTOS, Eduardo. O profissional da arqueologia enquanto educador e mediador cultural: reflexões sobre as práticas da atuação social da pessoa Arqueóloga na educação em museus. Monografia, UFPE, 2022.
SCHHAN, Denise. Múltiplas vozes, memórias e histórias: por uma gestão compartilhada do patrimônio arqueológico da Amazônia. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, v. 33, p. 109-135, 2007.
SCHIAVETTO, S. N. de O.; GILAVERTE, A. P.; ANDRADE, D. dos S. de. Projeto arqueologia e
educação: um olhar para o passado da região de Poços de Caldas. Revista de Arqueologia Pública, Campinas, SP, v. 7, n. 1[7], p. 138–152, 2013.
SHACKEL, Paul; CHAMBERS, Erve. Places in mind. In: Public Archaeology as applied anthropology. New York/London: Routledge, 2004.
SESANA, E.; BERTOLIN, C.; GAGNON, A. S.; HUGHES, J. J. Mitigating climate change in the cultural built heritage sector. Climate, v. 7, n. 7, 2019
SILVA, Leandro Vieira da. Unidades de conservação e patrimônio arqueológico: considerações sobre o papel da educação patrimonial nos dias atuais. REVISTA DE ARQUEOLOGIA PÚBLICA, v. 14, p. 129-144, 2020.
SILVA, Leandro Vieira da. O sagrado e o profano nas Unidades de Conservação: os conflitos socioambientais sobre o manejo de lugares mágico-religiosos. In: Anais do CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 20, Belém: Universidade Federal do Pará, p. 1-15. , 2021
SILVA, Leandro Vieira da. O turismo em espaços religiosos no interior de Unidades de Conservação: a emergência de uma debate entre meio ambiente, sociedade e ética. In: Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente: avanços, retrocessos e novas perspectivas. 1ed.Guarujá: Científica Digital, v. 3, p. 211-232., 2022.
SILVA, Leandro Vieira da; AMARAL, Alex. Relação com a população local. In: Denize Nogueira; Adélia Silva. (Org.). Manual do Gestor de Unidades de Conservação. Belo Horizonte: SEMAD, 1ed, p. 104-106, 2023.
SILVA, Leandro Vieira da. Turismo arqueológico e sustentabilidade ambiental: planejamento de ações para o Parque Estadual da Cerca Grande (MG) e para o Parque Natural Municipal Marinho da Barra (BA). Monografia de Pós-Graduação em “Turismo e Meio Ambiente”, Universidade de Araraquara, 2023.
SILVA, Leandro Vieira da. Turismo arqueológico em Unidades de Conservação: experiências, desafios e perspectivas no Parque Estadual da Serra do Cabral, Minas Gerais. Revista Noctua, v. 1, p. 29-40, 2025.
SILVA, Maurício; LIMA, Marjorie, TAMANAHA, Eduardo. A coleção arqueológica da Rádio Comunitária A Voz da Selva de Boa Esperança, RDS Amanã, Amazonas, histórias de uma coleção parente. Revista Museologia & Interdisciplinaridade, v. 12, p. 139-166, 2023.
SILVA, Rodrigo M. D. D. Educação patrimonial e a dissolução das monoidentidades. Educar em Revista, Curitiba, n. 56, p. 207-224, abr./jun. 2015.
SILVA, Selma Lima da. Contexto comunitário e educação patrimonial : um estudo de caso em União dos Palmares-AL / Selma Lima da Silva. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2010.
SILVA, Thiago; ROCHA, Rogério; JORDÃO, Luciana; TÁRREGA, Maria. Para além do papel: estudo das unidades de conservação brasileiras. Interações (Campo Grande), 25, 2024.
SILVA, Valber Souza. Os velhos caminhos de Congonhas numa perspectiva de educação patrimonial. 2014. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, USP, 2014.
SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da; BEZERRA, Márcia. Educação Patrimonial: perspectivas e dilemas. In: ECKERT, Cornelia; LIMA FILHO, Manuel Ferreira.; BELTRÃO, Jane (Org.). Antropologia e Patrimônio Cultural: diálogos e desafios contemporâneos. Florianópolis: Nova Letra/ABA/Fundação Ford, p. 81-100, 2007.
SMITH, Linda. Decolonizing Methodologies Research and Indigenous Peoples. 3. ed. London: Zed Books, 2021.
SOS Mata Atlântica. Manifesto em Defesa das Unidades de Conservação Disponível em: https://www.sosma.org.br/noticias/sosparquesdobrasil-manifesto-em-defesa-das-unidades-de-conservacao. Acesso em: 14 de janeiro de 2025.
SOUZA, Laize Carvalho de. Arqueologia Pública e sua práxis social: uma contribuição necessária para a preservação de recursos arqueológicos e interação social. Cadernos do Lepaarq, v. XV, n.30., p. 80-97, Jul-Dez. 2018.
TOFETI, Alexandre; CAMPOS, Neio . Unidades de Conservação e o território no Brasil: estudos de caso em quatro biomas. SOCIEDADE & NATUREZA (UFU. ONLINE), v. 31, p. 1-23, 2019.
TRESSERRAS, J.; GUERRA, D. Estudio demanda internacional del Turismo Arqueológico. Palestra. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO ARQUEOLÓGICO, 4., Trujillo, Peru, 2009.
UNESCO. World Heritage Centre. Policy document on the impacts of climate change on world heritage properties. Paris, 2007.
VELOSO, T. O aproveitamento turístico de sítios arqueológicos: O caso da APA CARSTE de Lagoa Santa/MG. Dissertação (Mestrado) – Centro Universitário UNA, 2006.
VIEIRA, Bruno Vitor de Farias. Era no tempo do coronel... "eu não concordo muito com isso não!": arqueologia pública e interpretações colaborativas sobre a "Fazenda São Victor", Piauí. Dissertação de Mestrado, UFS, Laranjeiras, 192 p., 2017.
VIEIRA, P. Arqueologia subaquática musealizada: uma proposta de visitação ao sítio de vapor Pirapama, Recife. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, 2020.
VITOR, A. G.. Os campos da memória e do patrimônio cultural: disputas, narrativas e representações. Revista de Estudos Interdisciplinares, v. 2, p. 53-66, 2020.
ZANIRATO, S. H.. Patrimônio e identidade. Retórica e desafios nos processos de ativação patrimonial. REVISTA CPC (USP), v. 13, p. 7-33, 2018.
ZANIRATO, Silvia Helena; RIBEIRO, Wagner Costa. Patrimônio cultural: a percepção da natureza como um bem não renovável. Rev. Bras. Hist., São Paulo, v. 26, n. 51, p. 251-262, 2006.
ZAMPARETTI, Bruna. Tem um sambaqui na minha rua! Multivocalização e experiência patrimonial: o exercício da Arqueologia Colaborativa. Tese de Doutorado, UFSC, 405 p. , 2023.
Copyright (c) 2025 Leandro Silva

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Os Cadernos do LEPAARQ publicam artigos em português, espanhol, italiano, francês e inglês, sem cobrança de nenhum tipo de taxa em nenhum momento, respeitando a naturalidade e o estilo dos autores. As provas finais serão enviadas aos autores, para sua conferência antes da publicação. O Conselho Editorial não se responsabiliza por opiniões emitidas pelos autores dos trabalhos publicados. O periódico Cadernos do LEPAARQ oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Os textos publicados poderão ser depositados imediatamente pelos autores em suas páginas pessoais, redes sociais e repositórios de textos.Nesse sentido, o periódico não tem fins lucrativos, de modo que os direitos autorais dos artigos publicados pertencerão aos respectivos autores e estes não receberão nenhuma forma de remuneração. Dessa forma, ao enviar o artigo, o autor do mesmo estará automaticamente aceitando esta condição. A reimpressão, total ou parcial, dos trabalhos publicados deve ser apenas informada pelos seus respectivos autores ao conselho editorial do periódico. OBS. Cabe(m) ao(s) autor(es) as devidas autorizações de uso de imagens com direito autoral protegido (Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998), que se realizará com o aceite no ato do preenchimento da ficha de inscrição via web.